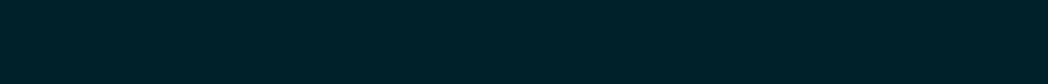México e jogadores naturalizados: uma nova forma de entender La Tricolor

Enquanto o tricolor se ergue no pátio central, as crianças alinham-se em filas e declaram em uníssono: "Prometemos ser sempre fiéis aos princípios de liberdade e de justiça que fazem do nosso país uma nação independente, humana e generosa, à qual damos a nossa existência".
E, como qualquer outro símbolo patriótico, a seleção nacional de futebol mexicana gera um apego emocional que muitas vezes carece de raciocínio: está acima de tudo e todos, independentemente do caminho empedrado desprovido de vitórias de renome que possam ser celebradas.
Mas, apesar deste nacionalismo fervoroso, os duros revezes que o futebol nacional sofreu ao longo dos anos levaram a que a seleção mexicana se sentisse tentada a recorrer a jogadores nascidos noutros países que, com maior ou menor ligação ao México, chegam à Liga MX onde encontram o sucesso que não encontraram noutros locais.
Jogadores naturalizados ao longo da história
No total, o México já utilizou 17 jogadores que não nasceram no país em partidas oficiais. Mas, além das estatísticas, o contexto de cada um deles ilustra as diferentes facetas da história do El Tri: desde o início irregular até as últimas décadas em que quis competir.
Os primeiros seis jogadores naturalizados foram o peruano Julio Flores (1935-1938), os espanhóis Lorenzo Camarena (1936), José López Herranz (1938) e Carlos Blanco Castañón (1954-1958), o cubano Jorge Romo (1949-1960) e o argentino Carlos "El Charro" Lara (1954-1958). De todos eles, apenas Romo jogou mais de 10 partidas como defesa (14).

Nesse período de 25 anos, da era pós-revolucionária à luta contracultural do início dos anos 1960, o futebol mexicano foi sendo construído no meio de uma idiossincrasia que começou a vê-lo como pouco mais do que um mero entretenimento, mas longe do fervoroso desejo de vencer que se instalaria décadas depois.
No entanto, depois do Mundial-1966, em Inglaterra, e sobretudo depois do de 1970, em casa, o primeiro Mundial a ser transmitido a cores e que marcou uma nova forma como o mundo começou a ver o futebol internacional, houve uma explosão de nacionalismo no México em torno do El Tri.
Mas o fervor provocado pela seleção nacional carecia da qualidade futebolística dos seus jogadores, o que acabou por destruir as esperanças do país. E durante todo esse tempo de momentos sombrios em que se tornava dolorosamente claro que nunca estaria entre a elite mundial, o México nunca usou estrangeiros nas suas convocatórias. Durante 40 anos, a seleção mexicana tentou competir com produtos nacionais, mas não obteve os resultados desejados.
Tudo mudou em 2002, com um contexto desfavorável para uma equipa que, apesar de não estar entre as melhores do planeta, se tinha afirmado como a equipa dominante da CONCACAF. No entanto, no período que antecedeu o Mundial da Coreia-Japão, esse domínio regional estava a vacilar sob o comando de Enrique Meza, um técnico campeão da liga que havia sucumbido à pressão do Tricolor.
Diante do risco de falhar o Mundial, o jovem Javier Aguirre ganhou destaque. O técnico mostrou garra e coragem com o seu Pachuca, um clube pequeno que queria deixar de o ser e que entrava em qualquer campo para impor as condições do seu treinador.
Depois de ser nomeado técnico da seleção, Aguirre aproveitou o bom plantel do Cruz Azul, que havia virado o país de cabeça para baixo com as atuações na Libertadores - e que Meza não utilizou -, e alguns de seus Tuzos. Entre eles, o argentino Gabriel Caballero, que estava no México há seis anos. Embora a sua convocatória tenha provocado algumas críticas, a necessidade de apuramento ofuscou qualquer questionamento.
No entanto, embora Caballero se tenha adaptado bem ao futebol mexicano no Santos e no Pachuca, a sua convocatória abriu a caixa de pandora dos jogadores naturalizados, em parte graças à crescente atratividade do campeonato mexicano para os jogadores sul-americanos em busca de salários atraentes e menos fanatismo.
Um novo senso de patriotismo
Enquanto em quase 70 anos o México utilizou sete jogadores não nativos, de 2002 até hoje, o país viu 11 jogadores nacionalizados vestirem a camisola verde e cantarem o hino nacional antes de uma partida oficial. Caballero foi seguido por outros sete jogadores nascidos na Argentina (Guillermo Franco, Matías Vuoso, Lucas Ayala, Damián Álvarez, Christian Giménez, Rogelio Funes Mori e Santiago Giménez), dois brasileiros (Antonio Naelson "Sinha" e Leandro Augusto) e um colombiano (Julián Quiñones).
E embora não exista nenhum impedimento para que estes e outros jogadores venham vestir a camisola de El Tri - do ponto de vista legal do país e da FIFA - há uma parte da população que se questiona se o facto de ter de recorrer a estrangeiros para competir não expõe ainda mais as deficiências da idiossincrasia desportiva e se não é uma saída fácil para tentar esconder as deficiências sociais e desportivas dos processos de formação de futebolistas.

Para a próxima convocatória da FIFA, em setembro, na qual o México defrontará a Nova Zelândia e o Canadá, os meios de comunicação social especularam que Germán Berterame, um argentino de 25 anos que chegou ao México em 2019 para jogar no Atlético San Luis, seria chamado.
Embora Aguirre não tenha chamado o atacante do Rayados, a convocatória teve o guarda-redes Álex Padilla na sua lista. Com 20 anos, pai basco e mãe mexicana, Padilla nasceu em Guipuzcoa e viveu dos três meses aos sete anos de idade em Chihuahua. Embora tenha jogado nas divisões de base da seleção espanhola, o guarda-redes comprometeu-se este ano a jogar pelo El Tri.
Diante desse cenário, muitos mexicanos se perguntam se, com tantos jogadores estrangeiros naturalizados ou com dupla nacionalidade, o nacionalismo enraizado desde a infância ainda vale a pena ou se é melhor entender, de uma vez por todas, que o sentido patriótico da seleção mexicana mudou para sempre.